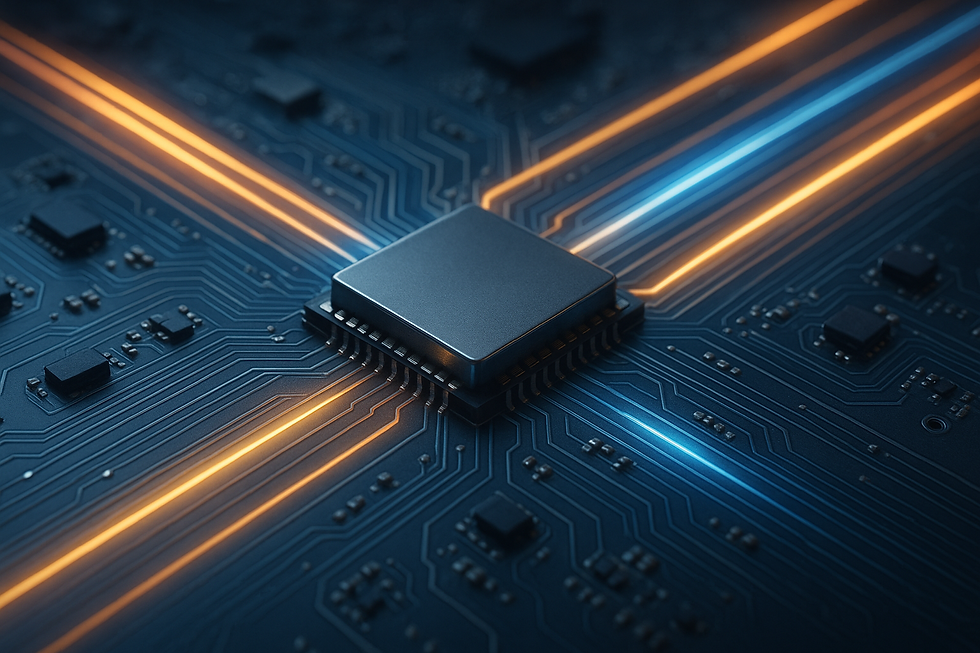Abertura
Tecnofascismo e Big Techs
O alinhamento crescente entre grandes plataformas e projetos políticos autoritários não é coincidência nem mero oportunismo. Ele revela a formação de um novo tipo de poder, que alguns estudiosos já chamam de tecnofascismo. Trata-se de um autoritarismo algorítmico, sustentado pela concentração extrema de dados e pela dependência das plataformas que mediam quase todas as esferas da vida

Sobre
Como o culto à tecnologia, a vigilância algorítmica e os bilionários do Vale do Silício contribuem para a construção de uma nova lógica autoritária
A imagem vale mil palavras – ou melhor, um bilhão, na escala das fortunas dos envolvidos. Na cerimônia da segunda posse de Donald Trump, a primeira fileira logo atrás do presidente dos Estados Unidos – de frente para a plateia e à frente dos políticos – foi ocupada por um grupo com vários pontos em comum, além do dinheiro.
O primeiro é que todos são expoentes do setor de tecnologia, à frente de gigantes conglomerados globais. O segundo é que, embora já exercessem enorme influência econômica e política, nunca haviam estado tão próximos ao poder.
O terceiro ponto é ideológico. Quem observa de fora as grandes empresas de tecnologia – as chamadas Big Techs – pode imaginar que, por estarem sediadas majoritariamente no Vale do Silício, na Califórnia, seus executivos tendem a ser progressistas, simpatizantes do Partido Democrata ou, ao menos, independentes. Talvez tenha sido assim até alguns anos atrás. Hoje, não mais.
O alinhamento crescente entre grandes plataformas e projetos políticos autoritários não é coincidência nem mero oportunismo. Ele revela a formação de um novo tipo de poder, que alguns estudiosos já chamam de tecnofascismo – uma fusão entre o domínio econômico das corporações digitais e a lógica política do controle total, mediada por algoritmos e pela manipulação da informação.
O termo foi cunhado em 2011 pela historiadora Janis Mimura, ao analisar as origens tecnocráticas do fascismo japonês dos anos 1930. Desde então, a expressão passou a ser retomada para descrever a simbiose entre tecnologia e autoritarismo no século 21, despertando o interesse de acadêmicos como Jason Stanley, autor de How Fascism Works, e da mídia internacional, como em artigo publicado pelo The Guardian que destaca as raízes direitistas do Vale do Silício e discute o avanço de práticas tecnofascistas no ambiente digital. No Brasil, o assunto tem sido destacado por alguns pesquisadores, especialmente por Vinício Martinez, professor da UFSCar, autor de diversos artigos sobre o encontro entre autoritarismo e tecnologia, um dos entrevistados nesta edição de FCW Cultura Científica.
O tecnofascismo não precisa de tanques, milícias uniformizadas ou marchas públicas. Seu campo de batalha é o fluxo de dados, e suas armas são invisíveis: sistemas de vigilância, inteligência artificial, recomendação de conteúdo e censura. Sob o discurso da inovação e da liberdade de expressão, as Big Techs operam uma arquitetura de poder que reforça a polarização, distorce o debate público e ameaça a democracia.
Nesse contexto, o fascismo contemporâneo já não se apresenta com símbolos ou líderes carismáticos, mas como uma lógica distribuída, integrada às interfaces e aos hábitos digitais. Trata-se de um autoritarismo algorítmico, sustentado pela concentração extrema de dados e pela dependência das plataformas que mediam quase todas as esferas da vida – do trabalho à sociabilidade, do consumo à política.
Futurismo e o resgate da estética de poder
Para compreender o tecnofascismo, é importante voltar ao início do século 20. Na Itália, Filippo Tommaso Marinetti fundou o movimento do futurismo, que celebrava a velocidade, a máquina, a guerra e o novo. No manifesto do movimento, Marinetti disse que “um automóvel de corrida é mais belo do que a Vitória de Samotrácia”. O futurismo glorificava a destruição do passado, o rompimento com a tradição e a exaltação da técnica como força vital da civilização moderna.
Não por acaso, esse movimento artístico tornou-se uma base ideológica para o projeto político de Benito Mussolini e o fascismo italiano, fornecendo-lhe uma gramática visual e emocional baseada na ideia do progresso como violência e da tecnologia como instrumento de purificação nacional.
O elo que une Marinetti, Mussolini e os bilionários da era digital é o fascínio pela técnica como substituta da política – e pela eficiência como justificativa do poder. O futurismo via na guerra um gesto estético de regeneração; o tecnofascismo vê na disrupção tecnológica uma forma de redenção. O primeiro corrompeu e matou em nome da nação; o segundo age em nome da inovação.
Os protagonistas dessa nova fase de poder digital formam uma constelação peculiar. São bilionários que se veem como visionários, mas cujo imaginário político ecoa velhos delírios de dominação.
Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, por exemplo, nos últimos anos tem apontado para uma orientação estética e ideológica muito menos progressista do que vendia inicialmente. Larry Ellison, fundador da Oracle, veterano da indústria de tecnologia, virou uma espécie de conselheiro informal de Trump, especialmente em temas de defesa e segurança. Também tem investido pesado para ganhar mais influência no governo e conseguir, entre outras vantagens, ser o dono do TikTok nos Estados Unidos.
Peter Thiel, cofundador do PayPal e um dos primeiros investidores do Facebook, representa talvez o elo mais explícito entre a utopia tecnológica e o autoritarismo político. Admirador declarado de Ayn Rand, Thiel já afirmou que “a liberdade e a democracia são incompatíveis” e que o sufrágio universal foi um erro. É fundador da Palantir Technologies, ligada a projetos de vigilância apoiados por Trump. Investiu em experimentos de colonização extraterritorial – como as “cidades flutuantes” sem regulação estatal. Sua visão é a de um mundo em que o poder pertence àqueles que dominam a tecnologia, não ao conjunto dos cidadãos.
Elon Musk – que dispensa introdução –, por sua vez, encarna o messianismo do tecnofascismo. Apresenta-se como libertário, mas exerce controle centralizado e autoritário sobre seus impérios corporativos. Ao comprar o X (antes Twitter) e transformá-lo, Musk promoveu uma sacudida ideológica, reinstalando contas extremistas e desmontando mecanismos de moderação sob o pretexto de “liberdade de expressão”. Essa liberdade, no entanto, parece reservada aos que compartilham sua visão distorcida de mundo – e a censura, aos que a questionam.
Marc Andreessen, criador do Netscape e um dos primeiros “oligarcas digitais”, é ainda explícito nessa linha. Em seu chocante – para dizer o mínimo – The Techno-Optimist Manifesto, ele dispara pérolas como: “Nossa civilização é construída sobre a tecnologia. Tecnologia é a glória da ambição e da realização humanas, a ponta de lança do progresso e a realização do nosso potencial”; “Dê-nos um problema real e poderemos inventar uma tecnologia que o resolva”; ou “Acreditamos na aventura. Em empreender a Jornada do Herói, rebelar-se contra o status quo, mapear territórios inexplorados, conquistar dragões e trazer os despojos para a nossa comunidade.”
A retórica de Andreessen – heroica, viril e expansiva – recupera diretamente a estética e a lógica do futurismo: velocidade, conquista, escala e dominação técnica. A tecnologia não aparece como meio, mas como destino, e a sociedade humana como terreno de conquista. Essa visão se encaixa no tecnofascismo: a vontade de “dominar o futuro” com a máquina ao lado e o humano subordinado.
Poder invisível
O tecnofascismo não se afirma apenas no discurso, mas sobretudo nas infraestruturas invisíveis que moldam o cotidiano digital. A dominação, agora, é codificada. O controle deixa de ser uma imposição física e passa a operar por meio de mecanismos de sugestão e dependência – a curadoria algorítmica, as bolhas de informação, os sistemas de vigilância e recompensa que determinam o que vemos, o que desejamos e o que pensamos. A obediência é disfarçada de conveniência.
As Big Techs transformaram o espaço público em um laboratório de comportamento coletivo. Cada clique, curtida ou deslize de dedo alimenta um sistema que não apenas prevê, mas induz o comportamento humano. O modelo de negócios baseado em atenção e engajamento leva as plataformas a amplificar o ódio, a emoção e o extremismo, porque esses são combustíveis que chamam a atenção e mantêm a máquina de dados em funcionamento. O resultado é um ambiente que, sob a aparência de liberdade, opera com a lógica da manipulação – a mesma que sustentou, em outra época, os regimes totalitários.
A diferença é que agora o autoritarismo é distribuído. Ele não depende de um Estado centralizado, mas de redes privadas que controlam a informação global. Sediadas nos Estados Unidos, as Big Techs decidem o que pode ou não ser visto em eleições no Brasil, na Índia ou na Hungria. Seus executivos assumem, de forma cada vez mais explícita, posições políticas reacionárias, defendendo a desregulamentação absoluta e o desprezo pelas instituições democráticas. A ideia de neutralidade tecnológica se dissolve diante da evidência: o poder das plataformas é político em essência.
Ao mesmo tempo, o tecnofascismo promove uma colonização da subjetividade. Os sistemas de inteligência artificial, treinados sobre trilhões de fragmentos de comportamento humano, passam a reproduzir – e a reforçar – preconceitos, estereótipos e padrões de exclusão. A fronteira entre humano e máquina torna-se moralmente ambígua. A tecnologia, que poderia ampliar a imaginação coletiva, é usada para estreitá-la, moldando desejos e crenças conforme a lógica do lucro e do controle.
A promessa de uma “sociedade conectada” dá lugar à sociedade monitorada. A suposta transparência dos dados oculta uma assimetria radical: os usuários estão completamente expostos, enquanto as corporações permanecem opacas. O fascismo clássico buscava o controle do corpo e da produção; o tecnofascismo busca o controle da atenção e da percepção. Ele não impõe o silêncio pela censura direta, mas pela saturação – um excesso de ruído que dilui a verdade e neutraliza a crítica.
O cenário se torna ainda mais nebuloso quando se verifica que um dos maiores investidores do Vale do Silício é a Arábia Saudita. E o estado autocrático recebe vantagens pelo montante investido, a ponto de muitos sauditas evitarem, por exemplo, publicar em redes sociais com nomes verdadeiros. A proximidade de Donald Trump da família real saudita só torna o cenário do controle da informação ainda mais assustador.
Menos velocidade e mais reflexão
Há uma continuidade simbólica entre o sonho modernista do início do século 20, de Marinetti e Mussolini, e o delírio tecnocrático do século 21, dos bilionários da tecnologia. Ambos tratam a técnica como neutra, inevitável e superior à política, sacrificando a pluralidade em nome da eficiência e convertendo o humano em obstáculo. Se o fascismo italiano aspirava a um Estado total, o tecnofascismo ambiciona um mundo total, tecido por plataformas e sistemas de vigilância que dissolvem fronteiras e soberanias.
O risco contemporâneo não é apenas institucional, mas cultural. Quanto mais aspectos da vida dependem de tecnologias digitais que prometem conveniência e velocidade, mais a diversidade de modos de pensar e existir se estreita. A submissão crescente do pensamento às regras algorítmicas – do feed ao GPS – produz homogeneização e empobrece a imaginação coletiva. Se as marchas uniformizadas do passado fabricavam consenso, hoje interfaces padronizadas cumprem função similar, promovendo adesão automática a valores dominantes.
Essa lógica se apoia em uma cultura profundamente masculina, herdeira de tradições militares e tecnocráticas que celebram eficiência, controle e virilidade. Nela se forjam ideias de conquista e ordem a partir da tecnologia, que sustentam o imaginário tecnofascista. Soma-se a isso a combinação de conformidade, apagamento da memória e sensação contínua de crise – emocionalidade típica dos fascismos históricos, agora alimentada pela aceleração digital e pela exaustão informacional. A solução oferecida nunca é política, mas técnica e centralizada, administrada por especialistas e algoritmos que prometem corrigir comportamentos e restaurar a ordem.
Esse autoritarismo difuso depende de usuários que naturalizam o discurso tecnolibertário e defendem a autoridade das corporações, vendo dissidentes – especialmente ambientalistas e críticos da inovação infinita – como inimigos do progresso. A mediação constante pelas redes sociais acelera impulsos, dilui responsabilidade e normaliza violência simbólica, permitindo que um ecossistema tecnofascista se instale como hábito e conveniência, sem declaração explícita de autoritarismo.
Para completar esse processo, tradições democráticas, saberes comunitários e filosofias do cuidado precisam ser apagadas. A erosão da memória coletiva abre caminho para que a autoridade tecnológica pareça natural e incontestável. E esse movimento se agrava quando os próprios meios de comunicação passam a ser controlados por Big Techs e por bilionários que concentram não apenas infraestrutura, mas também narrativa.
O homem mais rico do mundo, Elon Musk, é dono do X (ex-Twitter). O segundo mais rico, Larry Ellisson, banca a compra de gigantes como Paramount, CBS e CNN, que viram hobbies de seus filhos. Jeff Bezos, o quarto mais rico, comprou o Washington Post com a facilidade com que um leitor do jornal compraria uma edição há alguns anos. Mas o principal motivo é o mesmo: poder.
“Se você é um multibilionário, pode ver a democracia como uma ameaça potencial ao seu patrimônio líquido. Controlar uma parte significativa do número cada vez menor de veículos de comunicação permitiria que você se protegesse efetivamente contra a democracia, suprimindo críticas a você e a outros plutocratas e desencorajando qualquer tentativa de, por exemplo, taxar a sua riqueza”, disse o professor de economia política Robert Reich, em recente artigo.
O desafio é, portanto, político, cultural e imaginativo: recuperar o sentido público da técnica, criar tecnologias que ampliem a diversidade e fortalecer práticas democráticas locais. A resistência ao tecnofascismo se dará também no plano simbólico – nos códigos, nos currículos, nas políticas de dados.
Reduzir a velocidade, recuperar o tempo da reflexão e reabrir espaço para o comum pode ser um gesto radical. Enfrentar o tecnofascismo é recuperar a capacidade de escolher – caminhos, ritmos e formas de convivência – contra um sistema que tenta naturalizar a ausência de alternativas. A tecnologia pode ser instrumento de reconstrução coletiva, desde que restauremos nela o limite, o cuidado e a possibilidade de outros futuros.